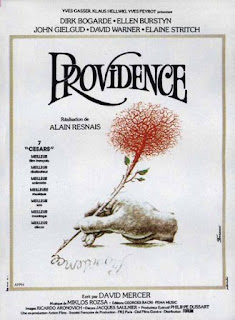Texto escrito quando do lançamento do livro de Moniz Vianna, a descontar, portanto, o tempo empregado.
A aparição em livro da reunião das críticas de Antonio Moniz Vianna se torna, desde já, o acontecimento editorial, em relação às obras que tratam do cinema, mais importante do ano, pois se trata de uma coletânea que contém a quintessência do maior crítico cinematográfico de todos os tempos, que pontificou, diariamente, no Correio da Manhã, de 1946 e 1973. Abandonou a crítica neste ano, quando da morte de John Ford, seu cineasta favorito, escrevendo logo um texto e se despedindo dos leitores. Antonio Moniz Vianna, no entanto, acaba de completar 80 anos, com a lucidez e a consciência inabaláveis. Mas há três décadas preferiu o exílio voluntário de seu apartamento em Copacabana. Na época de sua saída, decepcionado com a crise criativa do cinema contemporâneo, não viu mais razão de continuar na labuta diária da crítica. Para ele, o apogeu do cinema se deu entre 1912 e 1962, acontecendo, a partir daí, o seu perigeu. Pertenceu à geração dos grandes críticos, homens cultos, preparados, dedicados, com profundo amor pelo cinema, a exemplo de Walter da Silveira, aqui na Bahia, Francisco Luiz de Almeida Salles, Rubem Biáfora e Paulo Emílio Salles Gomes, em São Paulo, Alex Viany, Salvyano Cavalcanti de Paiva, entre muitos outros. Moniz, no entanto, ao contrário de Walter, que se poderia chamar de ensaísta – e um grande ensaísta de cinema, diga-se de passagem, era um verdadeiro crítico. O título do livro editado pela Companhia das Letras não poderia ser mais exato e significativo: Um filme por dia, porque Moniz Vianna, antes de tudo, era um crítico do batente diuturno, que copiava as fichas técnicas dos filmes – completíssimas – no escuro da sala de projeção com uma caneta na mão.
(Antonio Moniz Vianna nasce em Salvador em 1924, mas desde os 11 anos se transfere para o Rio de Janeiro, e, mais tarde, antes do jornalismo, ingressa na Faculdade Nacional de Medicina. A partir de 1946 começa a assinar críticas de cinema no Correio da Manhã, vindo, nos anos 60, a ocupar, neste prestigioso matutino carioca, o cargo importante de redator-chefe. Entre 1956 e 1965, é diretor da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio, quando organiza importantes e inéditas mostras (para a época) dos cinemas americano, francês, italiano, e russo, que, até hoje, para aqueles que tiveram a sorte de vê-las, ainda se encontram guardadas na memória. Moniz, por exemplo, trouxe, pela primeira vez, em 1958, uma cópia de Cidadão Kane ao Brasil, apesar dessa obra-prima de Orson Welles ser de 1941. Vieram também cópias de obras essenciais como as de Griffith (O nascimento de uma nação, Intolerância), os primeiros filmes de Méliès e Lumière, as obras fundamentais do neo-realismo italiano e do realismo poético francês, além dos filmes da escola soviética (Eisenstein, Pudovkhin, Dovjenko, Dziga Vertov, etc). Em 1965, organizou o maior festival de cinema que o Brasil já conheceu: o Festival Internacional do Filme do Rio de Janeiro, cujo júri, para se ter uma idéia, entre outros, era composto por monstros sagrados como Fritz Lang, Joseph Von Stenberg, Vincente Minnelli. Nunca, em momento algum de nossa história, houve, no país, festival de tal envergadura).
Das seis mil e tantas colunas que, segundo o crítico Paulo Perdigão, foram escritas pelo mestre, apenas setenta e poucas, após processo de seleção rigoroso efetuado por Ruy Castro e pelo neto do autor, Eduardo Moniz Vianna, constam de Um filme por dia, obra imprescindível e obrigatória que nenhuma pessoa que se queira cinéfila pode deixar de adquirir. Crítico de choque, de estilo admirável – somente comparável aos grandes escritores, Moniz Vianna, apesar dos insistentes apelos dos amigos e de editoras, sempre se recusou a publicar seus escritos. Uma de suas filhas, Isadora, chegou, há alguns anos atrás, a lhe pedir, mas o pai não lhe atendeu. Quem conseguiu o grande feito foi seu neto, Eduardo, que, afinal, entrando no arquivo secreto do crítico, e ajudado pelo especialista Ruy Castro, selecionou o material. Pena que a publicação abarque apenas um por cento do que Moniz escreveu por toda a vida. Mas o que se encontra em Um filme por dia é caviar, delicatessen em matéria de crítica cinematográfica.
(Em plena adolescência, em 1964, aos 14 anos, conheci Antonio Moniz Vianna através das páginas do Correio da Manhã. Os jornais do eixo Rio-São Paulo, naquela época, somente eram vendidos na Praça Municipal na Banca do Careca e, aos domingos, religiosamente, comprava o Correio da Manhã para ler Moniz Vianna, principalmente as suas completas filmografias que eram publicadas no Quarto Caderno – o maior suplemento cultural do Brasil, batendo, mesmo, o do Estado de São Paulo e o afamado SDJB (Spuplemento Dominical do Jornal do Brasil). Ficava estupefato (esta, a palavra) como um filme podia ser dissecado com tanta erudição por um crítico. Admirava, em Moniz Vianna, o seu imenso conhecimento do assunto e, principalmente, a maneira dele escrever, o seu estilo, admirável. Moniz, como disse um amigo, e discípulo, Paulo Perdigão, era um crítico de choque).
Moniz Vianna, respeitadíssimo em sua época, era, por outro lado, marginalizado pelos cinemanovistas. Glauber Rocha tinha por ele grande admiração, mas se aborreceu com a sua crítica demolidora a Terra em transe, que Moniz espinafrou – aliás sem razão, pois se trata do melhor filme brasileiro de todos os tempos. O grande crítico, porém, tinha lá suas idiossincrasias, predileções, manias. Adorava John Ford a ponto de deixar a coluna diária no Correio da Manhã assim que soube de seu falecimento. “O cinema acabou”, disse, na época, o polêmico articulista que além de crítico era, também, redator-chefe do jornal por longos anos.
(A crítica de cinema, hoje, como praticada por Moniz Vianna, Rubem Biáfora Paulo Emílio Salles Gomes, Cyro Siqueira, Walter da Silveira, José Lino Grunewald, Paulo Perdigão, entre muitos outros, não mais se exercita nos tempos que correm. O que se vê, atualmente, são resenhas e comentários, a maioria delas vinculada à propaganda dos últimos lançamentos da indústria cultural cinematográfica made in Hollywood. Os estudos mais aprofundados sobre a arte do filme se encontram nos calhamaços das dissertações e teses de mestrados e doutorados e, mais recentemente, no espaço virtual. Os jornais, decadentes, não se interessam a dar espaço para reflexões sobre o cinema, preferindo textos que funcionem como guias de consumo. Mas, neste particular, a internet tem oferecido a oportunidade para o aparecimento de sites comprometidos com a reflexão teórica. De qualquer maneira e de qualquer forma, o fato é que, com a decadência da cultura humanística, os acadêmicos-críticos, ou os críticos acadêmicos, não possuem mais um estilo atraente na exposição da matéria, condicionados que ficam pelos grilhões da linguagem da academia, uma verdadeira camisa-de-força que impede o livre exercício do pensamento livre de amarras. Vale transcrever, aqui, o que escreveu o jornalista Getúlio Bittencourt sobre Antonio Moniz Vianna: “Em quantidade, apenas o americano Bosley Crowther, do The New York Times, se apresenta com tamanho similar (ambos somam 28 anos de ofício cada). Em termos de qualidade, será preciso buscar nomes na França para encontrar, dispersos, predicados comuns em Moniz Vianna: André Bazin pela profundidade de análise, Georges Sadoul pelo conhecimento enciclopédico. Já na elegância do texto, só se pode comparar Moniz Vianna com grandes escritores que se dedicaram ocasionalmente à crítica de cinema, como o argentino Jorge Luis Borges na revista Sur, o inglês Graham Greene no The Spectator de Londres, o americano James Agee na revista Time, o colombiano Gabriel García Márquez no El Espectador de Cartagena”).
Com o desaparecimento dos suplementos culturais, a crítica de cinema foi substituída pelos comentários e resenhas, assim como a literária, de rodapé, também já não mais existe. O jornalismo dito cultural, hoje, está muito atrelado ao mercado, perdendo, com isso, a independência. Na Bahia, por exemplo, não existe crítica de arte. Os artistas querem ser badalados, elogiados, tietados, e quando alguém, por acaso, os critica há, sempre, uma indisposição, uma vontade de nomear aquele que diz que o rei está nu como um maledicente. Moniz Vianna foi um bravo guerreiro e um crítico como ele já não mais existe na sociedade contemporânea ou, como se quer agora, na contemporaneidade. Os escritos de sua autoria reunidos em Um filme por dia revelam não apenas um imenso estilista e um erudito nas coisas do cinema, mas refletem, também, o espírito de uma época. Que o vento, já saturado, levou-a para sempre. Resta, agora, a recusa à banalidade ululante da cultura ou a aceitação passiva, mascarada de uma alegria debilóide, a justificar que os tempos pós-modernos abrigam um contingente maciço da dementia precox.