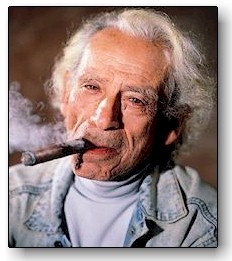Nicole Kidman, não tenho dúvida, se Hitchcock a tivesse conhecido, seria a sua loura. Ela, após uma inexpressiva entrada em cena nos anos 90, está se tornando cada vez melhor atriz. É uma intérprete que se empenha, dá tudo de si, por um bom papel. Sofreu nas mãos de Lars Von Trier em Dogville, um sofrimento quase falconettiano, mas gostou da experiência, considerando-a evolutiva para a carreira. Além de sua beleza física, de uma atração fatal, tem a garra das grandes atrizes, sabendo aliar o talento ao belo de sua imagem. Em A intérprete, do desprezado Sydney Pollack, está algo hitchcockiana. Kidman é muito apreciada pelo blogueiro dessa página. Veja-a, divina, em Reencarnação (título idiota para Birth), principalmente no plano em que, no teatro, plano longo, sente a agonia da dúvida.
Mas por falar em Pollack, diretor visto de esguelha pela crítica mais impertinente, o fato é que se trata de um artesão de grande habilidade, cujos filmes revelam uma carpintaria exemplar. Out of Africa é um belo filme e tem, em sua filmografia, obras acima da média, como, por exemplo, Esta mulher é proibida (This property is condemned, 1966), A noite dos desesperados, entre outros. Uma habilidade que fica patente na construção narrativa de A intérprete. Mas considerando que a estética do vídeo-clip se incorporou na estrutura narrativa do cinema americano contemporâneo, creio que Pollack poderia ter ido mais devagar nos cortes, deixando às tomadas uma possibilidade contemplativa que a estética da tesourinha não está mais a permitir.
Lembrei-me agora de Operação Yasuka, com o grande Robert Mitchum. É de Pollack, assim como Três dias do Condor. Na minha opinião, entretanto, e questão subjetiva, o seu melhor trabalho é Nosso amor de ontem, com Robert Redford e Barbra Streisand, filme de rara sensibilidade. Redford é um ator sempre presente nos filmes do diretor nos anos 80 e 90: O cavaleiro elétrico, Havana, Nosso amor de ontem, Condor, etc. Pollack foi muito amigo de Stanley Kubrick, que o colocou como ator em sua derradeira obra: De olhos bem fechados. Aliás, o diretor de A firma gosta muito de aparecer. Em A intérprete, por exemplo, faz uma ponta. Seu aparecimento, porém, não se constitui numa marca estilística, como em Hitchcock, mas, simplesmente, satisfação de ego.
A última grande comédia do cinema americano foi, sem nenhuma dúvida, Vitor e Vitória (1982), de Blake Edwards, com Julie Andrews, James Gardner, Robert Preston. Vinte e três anos se passaram de sua realização e, nesse período, nada surgiu que se lhe assemelhasse. Edwards se encontra, aqui, em sua quintessência, revelando a plena maturidade de um grande comediógrafo. A noviça rebelde amadureceu ao se casar com Edwards e, para desmistificar a sua imagem, em S.O.B, do marido, aparece com os seios à mostra. O nome do filme se refere ao famigerado palavrão filho da puta, restrito, na nomeação do filme, apenas às iniciais. Trata-se de uma visão amarga do universo do cinema, e Edwards parece que faz uma espécie de exorcismo de suas mágoas. Livre destas, expiadas, surge o momento do excepcional Vitor e Vitória.
Robert Wise, que morreu há pouco, tem obras marcantes em sua filmografia e, entre elas, Punhos de campeão (The set up), com Robert Ryan, Quero viver (I want live), com desempenho inexcedível de Susan Hayward, e West Side Story (Amor sublime amor), para se ficar somente em três títulos. Neste último, a sua abertura vem do alto, com a câmera no céu a descortinar a geografia novaiorquina até que, aos poucos, vai descendo, e, finalmente, aterrissa no bairro onde a ação vai se desenrolar. A mesma coisa acontece na abertura de A noviça rebelde (The sound of music). A câmera, sempre do alto, focaliza os Alpes e, aos poucos, desce até o lugar onde se encontra Julie Andrews. Ainda que West Side Story não se possa comparar à Noviça rebelde, que é, entretanto, um amável musical, trata-se de duas aberturas de mestre, duas aberturas magistrais de imenso impacto.
Os intervalos do Canal Brasil são muito demorados e repetem as chamadas, que de tão repetidas acabam se tornando insuportáveis. É preciso que os responsáveis pelo 66 da Net/Sky saibam dosar melhor os intervalos entre os programas. Muitas vezes, tem-se quase 15 minutos de chamadas. E parece que começou, ainda em novembro, o recesso de Selton Mello, Domingos Oliveira e Pereio, pois estão a repetir os programas sem haver nenhum inédito. Pereio fala mais do que o entrevistado. Este somente pode falar quando Pereio deixa. E Pereio está meio enrolado na sua enunciação de um pensamento. Nesse ponto, Domingos Oliveira e Selton Mello são mais cuidadosos, ainda que Domingos, quando diz alguma coisa, parece que já babeu meia garrafa de scotch. Já Selton tem a mania de entortar as imagens do entrevistado como se isso fosse alguma coisa de vanguarda. Ao contrário: prejudica a contemplação daquele que está sendo focalizado.
Mas por falar em Pollack, diretor visto de esguelha pela crítica mais impertinente, o fato é que se trata de um artesão de grande habilidade, cujos filmes revelam uma carpintaria exemplar. Out of Africa é um belo filme e tem, em sua filmografia, obras acima da média, como, por exemplo, Esta mulher é proibida (This property is condemned, 1966), A noite dos desesperados, entre outros. Uma habilidade que fica patente na construção narrativa de A intérprete. Mas considerando que a estética do vídeo-clip se incorporou na estrutura narrativa do cinema americano contemporâneo, creio que Pollack poderia ter ido mais devagar nos cortes, deixando às tomadas uma possibilidade contemplativa que a estética da tesourinha não está mais a permitir.
Lembrei-me agora de Operação Yasuka, com o grande Robert Mitchum. É de Pollack, assim como Três dias do Condor. Na minha opinião, entretanto, e questão subjetiva, o seu melhor trabalho é Nosso amor de ontem, com Robert Redford e Barbra Streisand, filme de rara sensibilidade. Redford é um ator sempre presente nos filmes do diretor nos anos 80 e 90: O cavaleiro elétrico, Havana, Nosso amor de ontem, Condor, etc. Pollack foi muito amigo de Stanley Kubrick, que o colocou como ator em sua derradeira obra: De olhos bem fechados. Aliás, o diretor de A firma gosta muito de aparecer. Em A intérprete, por exemplo, faz uma ponta. Seu aparecimento, porém, não se constitui numa marca estilística, como em Hitchcock, mas, simplesmente, satisfação de ego.
A última grande comédia do cinema americano foi, sem nenhuma dúvida, Vitor e Vitória (1982), de Blake Edwards, com Julie Andrews, James Gardner, Robert Preston. Vinte e três anos se passaram de sua realização e, nesse período, nada surgiu que se lhe assemelhasse. Edwards se encontra, aqui, em sua quintessência, revelando a plena maturidade de um grande comediógrafo. A noviça rebelde amadureceu ao se casar com Edwards e, para desmistificar a sua imagem, em S.O.B, do marido, aparece com os seios à mostra. O nome do filme se refere ao famigerado palavrão filho da puta, restrito, na nomeação do filme, apenas às iniciais. Trata-se de uma visão amarga do universo do cinema, e Edwards parece que faz uma espécie de exorcismo de suas mágoas. Livre destas, expiadas, surge o momento do excepcional Vitor e Vitória.
Robert Wise, que morreu há pouco, tem obras marcantes em sua filmografia e, entre elas, Punhos de campeão (The set up), com Robert Ryan, Quero viver (I want live), com desempenho inexcedível de Susan Hayward, e West Side Story (Amor sublime amor), para se ficar somente em três títulos. Neste último, a sua abertura vem do alto, com a câmera no céu a descortinar a geografia novaiorquina até que, aos poucos, vai descendo, e, finalmente, aterrissa no bairro onde a ação vai se desenrolar. A mesma coisa acontece na abertura de A noviça rebelde (The sound of music). A câmera, sempre do alto, focaliza os Alpes e, aos poucos, desce até o lugar onde se encontra Julie Andrews. Ainda que West Side Story não se possa comparar à Noviça rebelde, que é, entretanto, um amável musical, trata-se de duas aberturas de mestre, duas aberturas magistrais de imenso impacto.
Os intervalos do Canal Brasil são muito demorados e repetem as chamadas, que de tão repetidas acabam se tornando insuportáveis. É preciso que os responsáveis pelo 66 da Net/Sky saibam dosar melhor os intervalos entre os programas. Muitas vezes, tem-se quase 15 minutos de chamadas. E parece que começou, ainda em novembro, o recesso de Selton Mello, Domingos Oliveira e Pereio, pois estão a repetir os programas sem haver nenhum inédito. Pereio fala mais do que o entrevistado. Este somente pode falar quando Pereio deixa. E Pereio está meio enrolado na sua enunciação de um pensamento. Nesse ponto, Domingos Oliveira e Selton Mello são mais cuidadosos, ainda que Domingos, quando diz alguma coisa, parece que já babeu meia garrafa de scotch. Já Selton tem a mania de entortar as imagens do entrevistado como se isso fosse alguma coisa de vanguarda. Ao contrário: prejudica a contemplação daquele que está sendo focalizado.