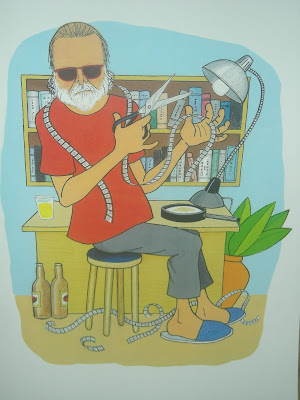A maioria das pessoas que vai ao cinema recebe uma avalanche de imagens e não se encontra apta a identificá-la enquanto uma linguagem. O que interessa, apenas, é a história, a intriga, o desdobramento das situações - aquilo que se chama de "fábula". Assim, o espectador comum não percebe que o filme tem uma narrativa e é esta que, por assim dizer, "puxa" a fábula - isto é: a história. Por narrativa se entende a maneira pela qual o realizador cinematográfico manipula os elementos da linguagem fílmica. Ou seja: o conjunto das modalidades de língua e de estilo que caracterizam o discurso cinematográfico.
O que precisa ficar bem entendido é o seguinte: o que merece crédito na obra cinematográfica não é o que se "diz" no filme, mas, sim, "como"o filme diz. E este se expressa por meio de sua linguagem específica, assim como na literatura o escritor se expressa por um conjunto de palavras que formam frases, orações e períodos. A expressão daquele que escreve se dá através da sintaxe. E o cinema também tem uma sintaxe que se cristaliza pelo relacionamento dos planos, das cenas, das seqüências. Assim, os elementos básicos da linguagem cinematográfica, os chamados elementos determinantes, podem ser assim considerados: a planificação (os diversos tipos de planos - geral, de conjunto, americano, médio, "close up"...), os movimentos de câmera ("travelling", panorâmica, na mão...) e a angulação ("plongée", "contre-plongée"...). E a montagem, existindo também os elementos componentes, mas não determinantes (fotografia, intérpretes, cenografia...).
É necessário, para uma melhor compreensão de um filme, aprender a reconhecer a linguagem do cinema e a captar qualquer mínima manifestação sua. Importa mais estar atento ao comportamento que a câmera adota em relação a determinado personagem do que seguir o seu comportamento na tela. É mais importante a verificação dos sinais efetuados pela câmera referente ao personagem do que tentar entender o que este está a fazer no desenvolvimento da história. A câmera dificilmente renuncia a uma opinião sua, mesmo quando parece estar silenciosa e perfeitamente alheada. Os modos que dispõe para "qualificar" a realidade são múltiplos e nem sempre imediatamente compreensíveis. Para se ter uma obra recente como ilustração: em "Inimigos públicos", de Michael Mann, o que importante mais é a "mise-en-scène", a "maneira" pela qual este realizador conta a sua história, o modo de apresentá-la por meio da sintaxe cinematográfica.
Outro exemplo está em Frenesi (Frenzy, 1972), penúltimo filme de Alfred Hitchcock, um cineasta inventor de fórmulas, um artista da 'mise-en-scène', cujos significados muitas vezes emergem do comportamento da câmera e, por extensão, do uso que faz da linguagem cinematográfica. Assim, em Frenzy, o movimento aparentemente vagabundo da câmera tem a função de indicar a atitude moral assumida pelo autor - no caso o mestre Hitch - relativamente à matéria tratada. Numa cena dessa obra exponencial, uma mulher (Anna Massey, a namorada do falso culpado Jon Finch) é assassinada em seu apartamento pelo hóspede (Barry Foster, o estrangulador que o espectador já conhece) ocasional que ela própria convidara confiando na sua extrema simpatia.
A câmera acompanha os dois quando se dirigem ao prédio onde ela mora - o público já pressente o pior, pois ciente de que o homem é um assassino perigoso, mas, entrando neste, a máquina de filmar abandona os dois "à sua própria sorte", pois começa a recuar lentamente, sai do edifício e se detém apenas quando o exterior deste fica enquadrado num plano geral. Todo o movimento se procede através de um movimento de câmera chamado "travelling", a princípio "para frente" e, quando do recuo, "para trás". O grito da pobre moça é abafado pelos ruídos do bairro popular onde se localiza uma feira muito barulhenta. Que outra coisa pretende dizer Hitchcock com este "travelling em derrière" se não que o Mal está entre nós e que opera das maneiras mais insuspeitas? Trata-se, na verdade, de um caso em que a "metafísica" do autor recorre, para se manifestar, à "física" de uma óbvia escolha estilística.
Hitchcock procura também, com seu humor negro, brincar com o espectador, que sabe ser um sado-masoquista e adoraria, no caso, presenciar o estrangulamento da mulher pelo perverso homicida. A significação, por conseguinte, se faz pela linguagem, pelo comportamento da câmera em relação ao personagem. Se neste exemplo, a significação decorre de um movimento de câmera, em outro, desse mesmo filme, ela advém pela montagem na seqüência na qual o estrangulador procura, dentre muitos sacos cheios de batatas, aquele no qual se encontra o cadáver da mulher que matara no apartamento a fim de lhe tirar um broche de suas mãos, as quais, no momento da agonia, agarram o objeto. A manipulação de Hitch é tal que o espectador "torce" para que o brutal homicida encontre, tal a sua aflição - e a aflição provocada pela montagem, pela 'mise-en-scène', o broche que o denunciaria como criminoso.
Em O Açougueiro (Le Boucher, 1969), de Claude Chabrol - um discípulo de Hitchcock e autor, com Eric Rohmer, de um livro importante sobre o diretor de Vertigo -,há uma cena na qual o protagonista - um carniceiro que se sabe torturado pela mania homicida - confessa o seu afeto à ignara professora da aldeia - ele é Jean Yanne, ela, Stéphane Audran, naquela época companheira do diretor. A declaração tem lugar num bosque onde os dois se deslocaram para colher cogumelos. A atmosfera seria das mais tranqüilizantes, não fora passar-se - durante o colóquio entre ambos - algo que não pode deixar de alarmar o espectador atento. E esse algo não se refere ao comportamento das personagens - que continuam a dialogar num cenário idílico - mas, precisamente, ao comportamento da câmera. Esta última, quase inadvertidamente, começa a deslocar-se lateralmente até o primeiro plano de um tronco de árvore se interpor entre ela - a câmera - e o par, escondendo o homem cujas palavras, contudo, continua-se a ouvir. A vista é desimpedida com a saída do tronco do campo da visão, mas pouco depois desaparece novamente quando o movimento se repete em sentido contrário, conduzindo a câmera à posição inicial. Eis um caso em que um simples travelling se encarrega de denunciar ao espectador a atitude reticente da personagem, 'encobrindo-a' da vista no momento em que 'se revela' ao ouvido. Denúncia essa dirigida ao público e não, infelizmente, à desventurada professora, que se manterá por um bom pedaço na ignorância das verdadeiras intenções do carniceiro degolador.

.jpg)