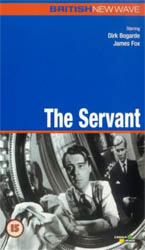Perdigão editava, para o antigo Instituto Nacional do Cinema (INC), duas excelentes publicações: a revista Filme/Cultura e um excepcional Guia de Filmes, que continha todos (mas todos mesmo) os lançamentos dos filmes no Brasil, que vinham acompanhados de fichas técnicas completíssimas e comentários críticos. Na edição de número 7 da Filme/Cultura, de outubro de 1967, foi realizada uma enquete entre os principais críticos do país para a escolha dos 20 maiores filmes de todos os tempos. Vou me restringir, aqui, à lista de Paulo Perdigão, ressaltando que foi feita em 1967, portanto há quarenta anos. Não acredito, no entanto, salvo uma ou duas modificações, que, se elaborada atualmente, fosse modificada, pois a idade de ouro do cinema, como disseram Peter Bogdanovich e Orson Welles, situou-se entre 1912/1962, quando se deu o apogeu. A partir daí, o perigeu. A relação é de autoria de Perdigão, mas oscomentários a latere, meus.
01) OS BRUTOS TAMBÉM AMAM (Shane, 1953), de George Stevens. Já muito se falou sobre a paixão de Paulo Perdigão sobre este western clássico de Stevens. O crítico tinha uma admiração profunda e não cansava de revê-lo até que conseguiu, indo aos Estados Unidos, fazer uma entrevista com o seu diretor, que foi publicada pela revista Filme/Cultura.
02) PUNHOS DE CAMPEÃO (The set up, 1949), de Robert Wise. Wise foi um diretor renovador nos anos 40 e 50, principalmente por este filme, escolhido em segundo lugar por Perdigão, e Quero viver (I want live, 1959), o melhor filme sobre a pena de morte com interpretação inexcedível de Susan Hayward. Punhos de campeão é, talvez, a obra mais brilhante que tem o boxe como tema.
03) BRINQUEDO PROIBIDO (Jeux interdits, 1952), de René Clement. Revi recentemente em DVD e penso que envelheceu. Na época fez muito sucesso entre a crítica, mas, passados mais de 50 anos, o filme não mantém a mesma magia de antanho. Clement sempre foi um bom cineasta, apesar de criticado e difamado pelo pessoal do Cahiers du Cinema.
04) UM LUGAR AO SOL (A place in the sun, 1951), de George Stevens. Como se pode observar, Perdigão gostava mesmo de Stevens. Neste filme, o autor de Shane faz uma adaptação de Uma tragédia americana, de Theodore Dreiser (que Eisenstein quisera filmar em 1930). Rapaz mata namorada pobre para poder casar com moça milionária (Montgomery Clift, Shelley Winters, Elizabeth Taylor).
05) ROCCO E SEUS IRMÃOS (Rocco i suoi fratelli, 1960), de Luchino Visconti. A tragédia viscontiana sobre uma família de imigrantes que chega a Milão vinda do interior do sul da Itália. Afresco magnífico, obra singular, que, na sua época, traumatizou toda uma geração e, ainda hoje, causa impacto e estupefação. É, sem dúvida, um dos monumentos da sétima arte.
06) LADRÕES DE BICICLETA (Ladri di biciclette, 1948), de Vittorio De Sica. Obra-prima do neo-realismo italiano, filme emblemático do período, mostra a angústia de um operário que, conseguindo um emprego de colador de cartazes, tem sua bicicleta, seu instrumento de trabalho, roubada. Todo o filme é a sua busca por ela. Pleno de humanismo, sensível e poético.
07) RASTROS DE ÓDIO (The searchers, 1956), de John Ford. O melhor western do cinema? De qualquer maneira, um dos pontos altos da expressão cinematográfica em toda a sua história. Perdigão, muito antes deste filme virar referência na contemporaneidade, já em 1967, ano que fez a lista, já incluiu The searches como uma obra que deve figurar entre as maiores de todos os tempos.
08) MATAR OU MORRER (High noon, 1952), de Fred Zinnemann. Paráfrase do macarthismo, que, na época do lançamento, estava inclemente nos Estados Unidos, a perseguir os intelectuais e a comunidade cinematográfica com a paranóia anticomunista, este filme virou um clássico, apesar de Zinnemann, austríaco, não ter uma expertise no gênero. O tempo real se conjuga com o tempo dramático, assim como em The set up.
0 9) O TESOURO DE SIERRA MADRE (The treasure of Sierra Madre, 1947), de John Huston. Uma aventura e seus aventureiros. Huston, realizador notável pela capacidade de diversificação temática, ainda que não um autor, fez, deste, um espetáculo que marcou época pela destreza de seus personagens (entre eles, Humphrey Bogart) e a concepção da aventura humana e seus dissabores.
10) MORANGOS SILVESTRES (Smultronstallet, 1957), de Ingmar Bergman. Um velho professor sai de sua cidade para ir a capital receber o título de Professor Honoris Causa da universidade. Durante a viagem, de carro, pela estrada, faz um reflexão sobre a sua vida, percebendo o quanto fora egoísta e cruel. Bergman mistura, com singular engenho e arte, o passado e o presente dentro de um mesmo plano.
11) MONSIEUR VERDOUX (idem, 1957), de Charles Chaplin. De uma idéia de Orson Welles, diz o letreiro inicial dessa obra atípica de um gênio do cinema. Mas, na verdade, Verdoux, não seria o avesso do vagabundo? Humor negro e um peculiar sentido de observação da condição humana com momentos antológicos que o faz um dos filmes mais sublimes do autor de Luzes da cidade. Perdigão tem razão em nomeá-lo e elegê-lo.
12) A TRAPAÇA (Il bidone, 1955), de Federico Fellini. Se instado a fazer uma relação dos meus melhores, eu, André Setaro, colocaria, talvez mesmo em primeiro ou segundo lugar Oito e meio, de Fellini. Mas A trapaça faz parte da primeira fase do artista antes da explosão que foi La dolce vitta. Nem por isso, no entanto, menos importante ou menos admirável.
13) DO MUNDO NADA SE LEVA (You can't take it with you, 1938), de Frank Capra. Alguns talvez preferissem A felicidade não se compra como o melhor Capra. Mas o escolhido pelo crítico também representa a quintessência desse notável reazador que assinalou, com suas temáticas e seu estilo, um momento de grande expressão do cinema americano clássico.
14) VIDAS AMARGAS (East of Eden, 1955), de Elia Kazan. O melhor trabalho de James Dean no cinema numa primorosa adaptação de Kazan de uma parte do livro de Steinbeck. Com ressonâncias bíblicas, o filme tem uma estimulante mise-en-scène que faz transcender a mera fabulação para emergir, nela, um sentido poético bem condizente com a visão de cinema do autor.
15) O GRITO (Il grido, 1957), de Michelangelo Antonioni. Quando elaborou a relação, Blow up ainda não havia sido lançado no Brasil. Mas, questão subjetiva, elegeria ao invés de Il grido, A aventura, primeira opus de uma trilogia constituída de A noite e O eclipse. Mas o fato é que o escolhido pelo crítico é, também, um filme admirável e menos estilizado. Talvez, por isso, a opção, como sucedeu com Il bidone, de Fellini.
16) VIVER (Ikiru, 1953), de Akira Kurosawa. Um dos mais belos filmes do autor japonês. Um funcionário público, ao tomar conhecimento que tem câncer terminal, decide provocar a burocracia de sua repartição para que saia do papel o projeto de um parque de diversões para crianças. Belo e poético. Poético e belo. O final, com o velho, cansado e morrendo, vendo a realização de seu sonho, no balanço do parque, é ponto alto do cinema.
17) O SOL POR TESTEMUNHA (Plein soleil, 1960), de René Clement. Numa relação de apenas 20 filmes, o nome de Clement é citado por dois filmes: este e Jeux interdits. Perdigão, portanto, ao contrário de François Truffaut, que o detestava, admirava muito Clement, cineasta francês que se dizia da ancien vague. Plein solein é baseado em livro de Patricia Highsmith.
18) EM BUSCA DE UM HOMEM (Will success spoil Rock Hunter?, 1957), de Frank Tashlin. Realmente, uma comédia genial mas pouco conhecida. Depois de seu lançamento nos anos 50, nunca mais foi reprisada (quando existia o Telecine Classic, este o programou em 2003). Tashlin revela os mecanismos de ascenção numa empresa capitalista, o que faz pensar em filme que influencia Se meu apartamento falasse, de Billy Wilder, três anos depois.
19) DESENCANTO (Briefencounter, 1948), de David Lean. Obra intimista de rara sensibilidade no tratamento temático, que já revela em Lean um realizador promissor e acima da média, ele que, nas décadas de 50 e 60, viria a se transformar num dos mais perfeitos narradores do cinema em filmes como Lawrence da Arábia, A ponte do rio Kawai, Passagem para a Índia, entre muitos outros.
20) RIO VERMELHO (Red river, 1948), de Howard Hawks. Para o admirador de Shane, outro western que se tornaria um clássico exemplar e que, com o passar dos anos, daria origem a uma trilogia constituída de Rio Bravo (Onde começa o inferno, 1959), Rio Lobo (1976), ou, Eldorado (que é filmagem disfarçada de Rio Bravo). De qualquer maneira, entre os melhores do crítico, três são westerns, o cinema americano por excelência.