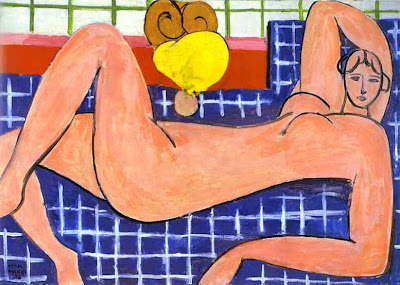
O historiador Boris Fausto escreveu, há algum tempo, no Mais! da Folha de S.Paulo, sobre a vida cultural na cidade "relativamente provinciana que era São Paulo". Não resisto à transcrição:
"Na cidade relativamente provinciana que era a São Paulo dos anos 50 do século passado, despontavam algumas atividades culturais significativas. É o caso do cinema, que tinha como seu pólo mais significativo a Cinemateca Brasileira, até hoje em pleno funcionamento.
É justo lembrar que a cinemateca teve um antecedente ilustre -o "Clube de Cinema", organizado por nomes da qualidade de Paulo Emílio Salles Gomes e Décio de Almeida Prado. O grupo acabou sendo perseguido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão do Estado Novo, e teve de encerrar suas atividades, como menciona matéria da "Ilustrada", em 24/4 (leia em www.folha.com.br/061241), a propósito dos 60 anos de existência da cinemateca. Aqui, recordo uma fase da instituição, quando ela foi sediada numa pequena sala, em um edifício da rua Sete de Abril, no centro da cidade, num tempo em que o centro ainda congregava o que havia de vida noturna de São Paulo. Na salinha da cinemateca, muito abafada nas noites de verão -ninguém imaginaria colocar ali um barulhento aparelho de ar condicionado-, um pequeno grupo, composto sobretudo de jovens, pôde assistir a uma série de filmes que ia das primeiras experiências de Georges Méliès (1861-1938) aos mais recentes daquela época, geralmente não exibidos no circuito comercial.
Quase sempre, as exibições eram precedidas por uma apresentação e discussões acerca do que se ia ver. Duas tendências principais se digladiavam, com uma paixão que se traduzia na intensidade verbal. Embutida na disputa, estava a renitente discussão sobre conteúdo e forma na obra de arte, que se desdobrava em posições de engajamento e purismo.
Os ícones das duas tendências eram o italiano Paulo Giolli e Rubem Biáfora, ambos acompanhados dos respectivos séquitos, reciprocamente infensos a qualquer compromisso com a tendência oposta. Giolli, que promoveu festivais de cinema em São Paulo, entre outras atividades, era um defensor irrestrito do neo-realismo italiano posterior à Segunda Guerra.
Figuras do porte de Vittorio de Sica (1901-74) e Roberto Rossellini (1906-77) romperam com os cânones de Hollywood, em filmes como "Paisà" (1946), "Roma, Cidade Aberta" (1945, ambos de Rossellini) e "Ladrões de Bicicleta" (1948, de De Sica), e nos introduziram num mundo nada glamouroso, embora às vezes pintado com cores edificantes.
Biáfora, bem mais lembrado, era um personagem peculiar, baixinho, magro, de voz rouca, características físicas que contrastavam com a veemência com que defendia suas idéias. Leitor das revistas estrangeiras sobre cinema, odiava os "Cahiers du Cinéma", publicados na França, com a mesma pertinácia com que exaltava a inglesa "Sight and Sound".
Apesar de me sentir politicamente mais afinado com Giolli, pouco aprendi com ele. Seu encantamento com o neo-realismo italiano, execrado por Biáfora, correspondia também ao que eu sentia, mas pouco acrescentava à compreensão de uma obra cinematográfica. Já Biáfora abria um caminho novo na percepção dos filmes, com sua insistência no ritmo introduzido pela montagem, na qualidade da fotografia, assinada por nomes que não ficavam no anonimato, no papel do diretor na interpretação dos atores.
É certo que ele não era um um nome isolado da crítica cinematográfica, em que nos anos 40 e 50 brilharam figuras como Paulo Emílio, Almeida Salles, Moniz Vianna, Alex Vianny, os dois últimos com fortes diferenças entre si. Mas as opiniões muitas vezes insólitas de Biáfora despertavam um interesse especial nos jovens que não aderiam com o fervor dos crentes a uma das duas tendências.
Quantas vezes eu e alguns amigos fomos a cinemas como o Sammarone, no bairro do Ipiranga, o Soberano e outros mais para ver filmes classe B ou C em que Biáfora enxergava maravilhas. Quantas vezes saímos do cinema decepcionados, depois de um longo e inútil esforço para entender as qualidades ocultas de certos filmes que só Biáfora e sua gente conseguiam enxergar.
Mas quem sabe descobriria hoje, por exemplo, as virtudes de um diretor de caubóis modestos como Ray Nazarro, montado em seu cavalo branco, cujos méritos, se existentes, na época nunca pude vislumbrar. De qualquer forma, foi Biáfora quem abriu meus olhos para a qualidade dos musicais da Metro, esse típico produto hollywoodiano.
Não se tratava de uma generalização, pois os musicais recomendados eram principalmente os produzidos por Arthur Freed e dirigidos por Vincente Minnelli. Mais ainda, Biáfora ressaltou, na salinha da cinemateca, uma figura de outro produtor, responsável por um gênero bem diverso dos musicais -Val Lewton, nascido na Rússia, cujo quase desconhecido nome verdadeiro era Vladimir Leventon.
Val Lewton foi contratado pela RKO, nos anos 40, para produzir filmes de terror, com orçamentos bastante restritos. Ele reuniu a sua volta um diretor já conhecido, Jacques Tourneur, e outros que se tornariam famosos, a exemplo de Robert Wise e Mark Robson.
Daí nasceram filmes da qualidade de "Sangue de Pantera" ("Cat People", 1942), interpretado pela sedutora mulher-pantera Simone Simon, "A Morta-Viva" ("I Walked with a Zombie", 1943), ou "A Maldição do Sangue de Pantera" ("Curse of the Cat People", 1944). São filmes sem efeitos especiais, em preto-e-branco, com um rendimento excepcional de luz e sombra.
Neles, revela-se uma grande sofisticação, inclusive pelas alusões literárias, pela atmosfera de uma difusa melancolia, pelas cenas de terror em que o sugerido é mais denso do que o explicitado. Vale a pena, aliás, ver ou rever essas obras, que estão saindo num pacote em DVD nos Estados Unidos [Val Lewton Horror Collection, Warner, US$ 48, R$ 110]. Seria excessivo dizer que hoje já não se fazem bons filmes, mas não é excessivo dizer que já não se fazem filmes como antigamente. Além disso, no plano local, foi-se para sempre o clima cinematográfico de meados do anos 50, das grandes descobertas, dos debates apaixonados, tão bem expresso na salinha da Cinemateca Brasileira -salinha que era um templo de cultura, onde ninguém imaginaria penetrar com latas de Coca-Cola ou sacos barulhentos de pipoca."
BORIS FAUSTO é historiador e preside o conselho acadêmico do Gacint (Grupo de Conjuntura Internacional), da USP, e autor de "A Revolução de 1930" (Cia. das Letras). Ele escreve mensalmente na seção "Autores", do Mais!.
2 comentários:
O "fenômeno" descrito" (de salas especiais) não ocorreu somente em São Paulo, mas em todo o mundo, numa época em que se respeitava e admirava cinema.
E, acrescentando: o barulhinho máximo que tinhamos nas salas eram os papéis celofanes do drops Dulcora.
Postar um comentário