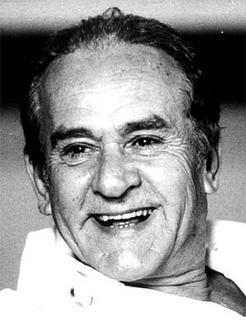Se Dona Flor e seus dois maridos é considerado o filme nacional de maior bilheteria, creio, no entanto, que o mais visto do cinema brasileiro tenha sido O Cangaceiro, de Lima Barreto, assim como, se as estatísticas dizem que Titanic é, atualmente, o campeão, acho que ...E o vento levou seja o que mais gente levou às salas escuras até hoje. Desde menino ouço falar em O Cangaceiro. Lembro-me de uma tia que nunca ia ao cinema mas que foi ver o filme de Lima Barreto, um sucesso imenso, que a Vera Cruz entregou à Columbia para distribuir e depois, ao que parece, não tenho certeza, chegou mesmo a vendê-lo a preço fixo, amargando um profundo prejuízo, pois o filme foi visto no mundo todo. O diretor morreu pobre, e, nos últimos anos, freqüentava assiduamente um bar em São Paulo, ficando solitário no seu interior, numa mesa de fundo. A leitura de Cangaço: o Nordestern no Cinema Brasileiro, de Maria do Rosário Caetano, fez-me lembrar de O Cangaceiro, que vi diversas vezes e tenho uma cópia em VHS. Ainda que moldado no esquema narrativo do western, O Cangaceiro revela em Lima Barreto um artesão de grande sentido de timing, de ritmo. Há seqüências primorosas, como a chegada do bando de cangaceiros numa cidadezinha e o quebra-quebra promovido, a morte de Alberto Ruschell, os planos gerais captados com um sentimento especial, que fazem lembrar, embora noutro contexto, o grande Ford. Barreto estruturou seu roteiro em cima do cinema americano e, por isso, Glauber Rocha, em Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, livro lançado em 1963 e escrito em duas semanas, chamou Barreto de inautêntico, provocando, com isso, profundo amargor no cineasta. Mas Glauber, que era um sentimental, ao saber que Lima Barreto estava morrendo tentou ir procurá-lo para se desculpar. Sei que o cineasta de Terra em transe ficou muito preocupado com Lima Barreto. Mas isso é outra história, como diria Moustache em Irma la Douce, de Billy Wilder.
Seguidores
10 outubro 2005
CANGAÇO REDIVIVO EM LIVRO
No crepúsculo dos anos 50, influenciados pelo êxito retumbante de ‘O cangaceiro’ (1953), de Lima Barreto, que ganhou, antes de ‘O pagador de promessas’, uma Palma de Ouro em Cannes, com a chanchada em seus estertores, ainda que viva, e o Cinema Novo a plantar suas sementes, surgiu, no cinema brasileiro, um filão que conquistou, de imediato, o público: o do filme de cangaço ou ‘nordestern’, como bem definiu o crítico Salvyano Cavalcanti de Paiva. O primeiro filme que alavancou, por assim dizer, o filão foi ‘A morte comanda o cangaço’ (1960), de Carlos Coimbra, uma produção de Aurora Duarte com o indefectível Milton Ribeiro. Seguiram-se-lhe: ‘Lampião, o rei do cangaço’ (1962), do mesmo Coimbra, com uma caricata performance de Leonardo Villar no papel título, ‘Nordeste sangrento’ (1962), de Wilson Silva, ‘Três cabras de Lampião’, de Aurélio Teixeira, ‘O cabeleira’ (1963), de Milton Amaral, entre outros. O esquema narrativo dos filmes se estruturava no do ‘western’ americano, mas o que fazia o encantamento da platéia estava na indumentária, nas músicas, apesar do esquema simplório no estabelecimento do desenvolvimento do conflito.
O cangaço, no entanto, se despertou um público expressivo para o cinema brasileiro, nunca foi contemplado com um estudo mais profundo, uma análise mais perfuratriz do seu filão. O livro de Maria do Rosário Caetano, articulista do Estado de S, Paulo e grande defensora do cinema brasileiro (autora de uma revista digital que condensa quase tudo pertinente à cinematografia que se faz por aqui, o ‘Almanaque’), ‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’, editado pela Avathar (Brasília), vem, em boa hora, resgatar o tempo perdido. Pode-se dizer que é a obra mais significativa que trata do assunto, com a mais ampla abordagem sobre o fenômeno do cangaço no cinema nacional. Dedicado a Miguel Torres (1926/1962), ator e roteirista apaixonado pelas histórias do cangaço, a publicação, organizada por Rosário, contém uma seleção primorosa de ensaios de pesquisadores qualificados. O livro pode ser encontrado, aqui em Salvador, naquela grande livraria situada na rua Direita da Piedade.
O espaço não permite fazer maiores considerações sobre a obra, mas, assim mesmo, num ‘vol d’oiseaux’, ‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’, vale ressaltar, não é um livro destinado apenas à leitura, mas obra para se guardar, pois de referência e que aborda um tema quase esquecido na bibliografia do cinema brasileiro.O ensaio de Walnice Nogueira Galvão, ‘Metamorfoses do sertão’, é primoroso, pois uma descrição iconográfica de um cangaceiro. O texto pioneiro, no entanto, quase um elemento deflagrador de um outro olhar sobre o cangaço, é o escrito a quatro mãos por Lucila Ribeiro Bernardet ((1935-1993) e Francisco Ramalho Junior, ‘Cangaço: Da vontade de se sentir enquadrado’, que, no caso de Rosário, deflagra realmente, porque fonte inspiradora do livro. Escrito em 1966, há, portanto, 39 anos, permaneceu inédito por todo esse tempo e foi ao lê-lo que a chama se acendeu em Rosário para dar ao cangaço a dimensão que o filão estava por merecer.
Dois baianos fazem parte da antologia: o cineasta e pesquisador José Umberto, autor de ‘A musa do cangaço’, que escreve sobre o filme que retrata Lampião feito por Benjamim Abraão em 1936, e Alberto Freire, que faz uma comparação entre o célebre ‘O cangaceiro’, de Lima Barreto, e seu ‘remake’, feito nos anos 90 por Aníbal Massaini Neto. Sobre ser uma análise arguta e competente sobre os dois filmes, não se pode deixar de acrescentar, aqui, que o filme de Massaini é um pálido reflexo do de Barreto, e se poderia dizer mesmo um grande retrocesso no filão e obra anacrônica. Nada a ver, no entanto, com a investigação comparativa de Alberto Freire.
Ruy Guerra escreve sobre o homem que matou Corisco, Luiz Zanin Oricchio sobre este, como um cangaceiro paradoxal, Marcelo Dídimo revisita, com brilho, o cangaço em ‘O baile perfumado’ (que considero um dos melhores filmes da chamada retomada do cinema brasileiro), Rosário observa o fenômeno nos documentários da Blimp Filmes, e Luis Felipe Miranda (autor de um excelente dicionário sobre cineastas nacionais), com um olhar de historiador, faz um paralelo entre o cinema e cangaço. Além da introdução da autora, há, no final do livro, uma filmografia e uma biblografia, e, ainda, um perfil dos autores.
‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’ já pode ser considerado uma referência para todos aqueles que queiram estudar o fenômeno e o filão. Dando uma olhada na filmografia, o mais clássico dos filmes de cangaço feitos no Brasil é, sem dúvida, ‘O cangaceiro’ (que Glauber Rocha tanto criticou em ‘Revisão crítica do cinema brasileiro’ e, depois, arrependido, foi pedir desculpas a Lima Barreto). O melhor, sem dúvida, pois ‘Deus e o diabo na terra do sol’ entra na categoria de ‘hors concurs’. Porque, talvez, vistos na adolescência, colocaria em destaque ‘A morte comanda o cangaço’ e ‘Entre o amor e o cangaço’ (1965), de Aurélio Teixeira, em cinemascope e preto-e-branco, que considerei, na época, um filme envolvente (visão de menino).
O cangaço, no entanto, se despertou um público expressivo para o cinema brasileiro, nunca foi contemplado com um estudo mais profundo, uma análise mais perfuratriz do seu filão. O livro de Maria do Rosário Caetano, articulista do Estado de S, Paulo e grande defensora do cinema brasileiro (autora de uma revista digital que condensa quase tudo pertinente à cinematografia que se faz por aqui, o ‘Almanaque’), ‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’, editado pela Avathar (Brasília), vem, em boa hora, resgatar o tempo perdido. Pode-se dizer que é a obra mais significativa que trata do assunto, com a mais ampla abordagem sobre o fenômeno do cangaço no cinema nacional. Dedicado a Miguel Torres (1926/1962), ator e roteirista apaixonado pelas histórias do cangaço, a publicação, organizada por Rosário, contém uma seleção primorosa de ensaios de pesquisadores qualificados. O livro pode ser encontrado, aqui em Salvador, naquela grande livraria situada na rua Direita da Piedade.
O espaço não permite fazer maiores considerações sobre a obra, mas, assim mesmo, num ‘vol d’oiseaux’, ‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’, vale ressaltar, não é um livro destinado apenas à leitura, mas obra para se guardar, pois de referência e que aborda um tema quase esquecido na bibliografia do cinema brasileiro.O ensaio de Walnice Nogueira Galvão, ‘Metamorfoses do sertão’, é primoroso, pois uma descrição iconográfica de um cangaceiro. O texto pioneiro, no entanto, quase um elemento deflagrador de um outro olhar sobre o cangaço, é o escrito a quatro mãos por Lucila Ribeiro Bernardet ((1935-1993) e Francisco Ramalho Junior, ‘Cangaço: Da vontade de se sentir enquadrado’, que, no caso de Rosário, deflagra realmente, porque fonte inspiradora do livro. Escrito em 1966, há, portanto, 39 anos, permaneceu inédito por todo esse tempo e foi ao lê-lo que a chama se acendeu em Rosário para dar ao cangaço a dimensão que o filão estava por merecer.
Dois baianos fazem parte da antologia: o cineasta e pesquisador José Umberto, autor de ‘A musa do cangaço’, que escreve sobre o filme que retrata Lampião feito por Benjamim Abraão em 1936, e Alberto Freire, que faz uma comparação entre o célebre ‘O cangaceiro’, de Lima Barreto, e seu ‘remake’, feito nos anos 90 por Aníbal Massaini Neto. Sobre ser uma análise arguta e competente sobre os dois filmes, não se pode deixar de acrescentar, aqui, que o filme de Massaini é um pálido reflexo do de Barreto, e se poderia dizer mesmo um grande retrocesso no filão e obra anacrônica. Nada a ver, no entanto, com a investigação comparativa de Alberto Freire.
Ruy Guerra escreve sobre o homem que matou Corisco, Luiz Zanin Oricchio sobre este, como um cangaceiro paradoxal, Marcelo Dídimo revisita, com brilho, o cangaço em ‘O baile perfumado’ (que considero um dos melhores filmes da chamada retomada do cinema brasileiro), Rosário observa o fenômeno nos documentários da Blimp Filmes, e Luis Felipe Miranda (autor de um excelente dicionário sobre cineastas nacionais), com um olhar de historiador, faz um paralelo entre o cinema e cangaço. Além da introdução da autora, há, no final do livro, uma filmografia e uma biblografia, e, ainda, um perfil dos autores.
‘Cangaço: O Nordestern no Cinema Brasileiro’ já pode ser considerado uma referência para todos aqueles que queiram estudar o fenômeno e o filão. Dando uma olhada na filmografia, o mais clássico dos filmes de cangaço feitos no Brasil é, sem dúvida, ‘O cangaceiro’ (que Glauber Rocha tanto criticou em ‘Revisão crítica do cinema brasileiro’ e, depois, arrependido, foi pedir desculpas a Lima Barreto). O melhor, sem dúvida, pois ‘Deus e o diabo na terra do sol’ entra na categoria de ‘hors concurs’. Porque, talvez, vistos na adolescência, colocaria em destaque ‘A morte comanda o cangaço’ e ‘Entre o amor e o cangaço’ (1965), de Aurélio Teixeira, em cinemascope e preto-e-branco, que considerei, na época, um filme envolvente (visão de menino).
09 outubro 2005
Introdução ao Cinema (13)
Na apreciação da obra cinematográfica existe ainda um certo bipolarismo metodológico que não passa de uma reencarnação da antiga oposição entre formalismo e conteudismo - questão bizantina que já se pensara superada mas que está revestida, hoje, de técnicas recognitivas bastante aperfeiçoadas na sua modernidade, tornando esta questão, ainda que bizantina de origem, mais sofisticada.Os partidários opostos continuam a se defrontar em relação à coisa (leia-se fábula) ou ao como (leia-se narrativa) do discurso fílmico. Cada qual empenhado em reivindicar as qualidades de sua causa contra as mistificações operadas pela adversária. O fato é que tanto a story - considerada, aqui, nas suas implicações fílmicas ou extrafílmicas - como o discurso - considerado, quer no seu valor estético, quer no seu aspecto funcional que assume no filme, e leia-se, aqui, discurso como narrativa, continuam a ser analisados em separado, como se fossem duas realidades independentes entre si, perpetuando-se, com isso, o equívoco segundo o qual a fábula seria a substância da expressão, enquanto a narrativa - ou o discurso - a forma mediante a qual a substância seria esteticamente expressa. Como sair, então, dessa arapuca teorética na qual se afundam os mais acirrados radicais de um partidarismo que serve somente para espoliar o filme à força? Esse dilema está mais ou menos expresso quando o crítico paulista Paulo Emílio Sales Gomes, apaixonado pelo filme de Jean Renoir A grande ilusão, vê-se na iminência de assumir seu papel de analista: "O exame crítico é um processo de aproximações sucessivas, implicando num grau de distanciamento cuja redução constante, sem nunca chegar à anulação. O comentário a respeito da La Grande Illusion me obrigaria a inverter o processo e a desencadeá-lo artificialmente. Não se trata, apenas, de uma fita que existe em mim conservada pela memória auditiva, visual e afetiva. Para fixar a natureza dessa identificação é necessário dizer ainda que certamente me sinto dentro da fita muito mais à vontade do que o próprio autor. Este estranho sentimento de fusão é pura vivência e bloqueia o espírito crítico. Procurando exercê-lo, violo e destruo minha intimidade com a fita. Quando escrevo ou falo sobre La Grande Illusion tenho a impressão desagradável de que ambos, a fita e eu, somos outros."Esse sentimento do crítico paulista aplica-se, contudo, à chamada crítica impressionista considerada deficiente no plano cientifico, porque destituída de metodologia específica e baseada na impressão do comentarista/crítico, mas que tem a vantagem de não recorrer a esquemas exclusivos, que em vez de abrir, muitas vezes, um caminho no texto fílmico servem frequentemente apenas para o esmagar com certa brutalidade metodológica. A viagem através do universo fílmico, todavia, para que se torne uma descoberta do significado poético da obra cinematográfica, tem de ser feita por meio da distinção entre a narrativa e a fábula, entre o discurso e a história, entre o como e a coisa. Tarefa árdua se se considerar as numerosas sereias espetaculares, psicológicas e sociológicas que povoam o itinerário de procura da tradução do filme em termos lógicos-discursivos do sentido poético que ele exprime através dos procedimentos de significação que lhe são próprios, o que incide sobre a sucessiva racionalização e ao caráter de polivalência que caracteriza o filme como sistema orgânico de sinais suscetível de múltiplas leituras, favorecendo, por conseguinte, à pluralidade interpretativa.Seria possível encontrar um itinerário que caminhe ao abrigo dos citados riscos? Há dois pontos fundamentais na discussão da distinção referida entre narrativa e fábula. O primeiro afirma que, no filme, como em qualquer outra prática escritural, não existe a fábula, mas, apenas, a narrativa, a qual se serve da primeira como mero pretexto narrativo; e o segundo que diz não existir, no filme, outra história para além da que passa inteiramente através das malhas da narrativa estruturada em torno da story.Trocando em miúdos: para que o filme se possa revelar na sua recôndita alma secreta não é por meio da língua que se deve inquiri-lo, mas, sim, numa língua que não é a da realidade nem a da encenação da realidade, a língua da transformação do filme em figura através dos procedimentos adequados à produção de sentidos inéditos de que a linguagem fílmica dispõe. É na língua do cinema que se deve procurar a sua significação como obra de arte, é no específico fílmico que se tem o ponto de partida para desatar o nó górdio de seu mistério como expressão da arte e do pensamento. Na ausência desses pensamentos adequados à produção de sentidos de que a linguagem fílmica dispõe, uma transvalorização poética que se plasma na escrita, não há por que falar em formas nem conteúdos, reinando, apenas e absoluto, o vazio da banalidade cotidiana. Se o cineasta não tem a capacidade de transformar o mundo em linguagem - nunca esquecendo de que o cinema tem o poder de transformar o mundo em discurso servindo-se do próprio mundo, está destinado a permanecer uma larva informe e muda, não obstante, a impressão da realidade que emana do cinema e em virtude da qual os filmes podem mentir sem receio dando a impressão de que estão dizendo a verdade.06. E a máquina fabuladora se instalaVista a distinção entre o plano da narrativa e o plano da fábula, fundamental para o entendimento da linguagem sem língua que é o cinema, não se pode deixar de reconhecer que a chamada sétima arte, por grande máquina fabuladora, é chamada a desempenhar na atualidade a mesma função mitopoética das canções de gesta da Idade Média e do romance realista do século XIX. O cinema se propõe a satisfazer, à semelhança desses dois gêneros citados, aquela fome de narrativas tão antiga como o homem e que constitui a manifestação mais elementar da sua insuprimível necessidade de imaginário. E o cinema obteve sucesso nesse campo por causa do caráter universal da linguagem fílmica assim como sua irrefutável característica de arte moderna - típica, aliás, do cinema. Arte mediana porque distante, por constituição, tanto da esfera artística cortesã como das práticas de barracão decididamente plebéias. É óbvio que se está a referir ao comportamento usual a que o cinema - que antes mesmo de ser uma arte é uma indústria - se conforma na maior parte dos casos - e os filmes programadas no circuito comercial podem muito bem dar uma idéia desta arte mediana. Assim, os raros pontos altos atingidos pela produção cinematográfica não são, efetivamente, suficientes para modificar o supracitado estatuto, o mesmo acontecendo com os bastante mais frequentes pontos baixos. É o caso de se dizer: um filme, por pior que seja, dificilmente desilude por completo a expectativa de narrativa do espectador, sendo que na origem da popularidade do cinema está, portanto, nada mais do que esta promessa sempre renovada de narratividade, uma promessa cuja manutenção é garantida pelos históricos destinados à tela.Lida-se, no filme, não com palavras mas com imagens capazes de provocar esta tão falada impressão de realidade, que é, diga-se de passagem, completamente desconhecida nos signos verbais. Assim, na medida em que as imagens, diferentemente do que se passa com os verbos, não se podem conjugar, o único tempo que o cinema tem à sua disposição é o presente. Um presente, observe-se, que é vivido como tal pelo espectador mesmo quando na tela se volta ao passado ou se dão saltos no futuro - conforme já se aludiu. Tais procedimentos apenas se referem, de fato, ao plano da dispositio e em nada alteram o da alocutio, considerando que o que interessa é sempre o onde e não o como da esfera significante. Para não repetir, mas repetindo: o lugar geométrico onde se individualiza a poética de um autor é, por conseguinte, representado pela esfera da linguagem por ele utilizada.Quanto ao espaço fílmico, percebe-se-o globalmente - ao contrário ao espaço do romance cujo objeto de percepção é analítico e setorial. É possível, no cinema, também isolar um aspecto particular e dirigir a atenção exclusivamente sobre ele, recorrendo, para isso, ao grande plano ou, então, à máscaras que isolam um objeto do contexto visual da imagem. Esta possibilidade, contudo, corresponde mais a uma exigência estilística do autor - equivalente ao procedimento verbal conhecido pelo nome de sinédoque, que se caracteriza pelo tropo fundado na relação de compreensão e pelo qual se emprega o todo pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie - do que a uma característica ontológica da linguagem fílmica. A categoria do espaço-tempo cinematográfico é, portanto, plenamente autônoma comparativamente à que intervém na narração escrita, salvo no caso, acentue-se, em que o filme se mantenha tributário da obra literária e renuncie, assim, a exprimir-se com a sua linguagem. Ao contrário da linguagem fílmica, o espaço na linguagem dos signos verbais é um lugar puramente abstrato ligado, apenas, à capacidade evocadora das palavras utilizadas e ao grau de sensibilidade linguística que o leitor possui.O romance filmado é uma utopia. Havendo, como há, duas linguagens autônomas e especificas, como se pode efetuar a transferência da linguagem literária - signos verbais - para a linguagem cinematográfica - signos icônicos? De fato, quando ocorre a adaptação de uma obra literária para o cinema há, apenas, o aproveitamento da fábula, dos personagens, das situações, desaparecendo, com isso, a narrativa, considerando que o que faz o estilo de um escritor é sua capacidade de reger as palavras numa determinada sintaxe, e o estilo de um cineasta está na sua capacidade de manejar os elementos da linguagem fílmica - os planos, os movimentos de câmera, as angulações, a montagem etc.Por outro lado, alguns cineastas se valem de sub-literatura para, aproveitando a eventual engenhosidade da fábula, transformá-la em filme. Neste caso, a narrativa, se tende para o grau zero a nível de conotação no plano literário, pode se transformar numa narrativa convincente, e plena de poeticidade, no aproveitamento da fábula da sub-literatura. É o que faz, por exemplo, Alfred Hitchcock, cujos filmes, com raras exceções, foram sempre baseados em fábulas da chamada pulp fiction (literatura barata), investindo o cineasta nelas como mero pretexto narrativo, o conteúdo estando sempre a serviço da forma/discurso/narrativa.Temerário é a adaptação de um monumento da literatura universal. King Vidor empreendeu a conquista de Guerra e Paz para o cinema. Com um resultado desanimador se comparado o filme à obra que lhe deu origem, pois Vidor aproveitou somente os personagens, a intriga e as situações. Em uma palavra: a fábula. A narrativa de Leon Tolstoi foi diluída pela narrativa do cineasta, despersonalizando o fluxo do texto específico e da linguagem do escritor em função de um outro fluxo linguístico.O cineasta, portanto, ao adaptar uma obra literária empreende uma transferência de linguagem que se poderia situar no terreno da utopia. Em O processo, baseado em Franz Kafka, Orson Welles, com sua narrativa barroca, faz desaparecer a narrativa kafkiana (baseada em signos verbais) em função de uma narrativa wellesiana. Restam, é verdade, a fábula, os personagens, as situações. O filme, entretanto, é mais Welles do que Kafka. Também em Madame Bovary, de Claude Chabrol, apesar deste cineasta não possuir a exuberância estilística de Welles e ter querido uma fidelidade exemplar ao texto literário de Gustave Flaubert, a despersonalização se faz presente, porque em Madame Bovary, o filme, não se localiza o estilo flaubertiano e, pela fidelidade extremada, também se evapora o estilo chabrolniano. Neste caso, duas as despersonalizações: a do escritor e a do cineasta. Há ainda a considerar que o leitor do livro imagina a sua Bovary, existindo tantas Emas quantos os leitores da obra literária. No filme, Ema é Isabelle Huppert.Em suma: o princípio que rege a adaptação de um romance ou de uma peça teatral ao cinema é absurdo em essência, na medida em que supõe que os valores significados existem independentemente do meio de expressão que os veicula. Se o cinema, a literatura, o teatro, pertencessem a um mesmo sistema de signo (isto é: se possuíssem uma língua ou uma linguagem comum) não haveria problema. Mas os valores mudam quando se passa de um sistema para outro: os mesmo elementos adquirem sentido diverso. Os signos utilizados em um determinado meio de expressão, quando adaptados a outro, não só não possuem o mesmo poder expressivo (significante) como também não agem da mesma forma sobre a consciência do receptor. Sua percepção muda, sua organização mental se processa de modo diferente.O que é descrito num romance se harmoniza gradualmente: as coisas aparecem pouco a pouco através de frases. No cinema elas são apresentadas imediatamente num ritmo de desenvolvimento radicalmente oposto. O que na literatura é um resultado, no cinema é um ponto de partida. O romance filmado é uma utopia e, quando executado, um non sense. O que se adapta é uma paráfrase da obra original, a sua matéria. O romance perde a sua organicidade e, apenas, tem transportados para a tela personagens e incidentes, livres da linguagem que antes os tornara virtualmente reais.O fundamental é saber se o filme, como dizia André Bazin, "non pas des histoires mises en scéne mais des oeuvres ecrités avec la caméra et les acteurs", é bom ou ruim e não mera visualização paraliterária ad usum delfhini - digesto corrompido pelo preconceito culturalista segundo o qual a câmera é um olho com pretensões à caneta.
Assinar:
Comentários (Atom)